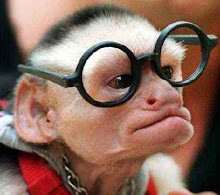Por mais que os índices de formação escolar atuais estejam constantemente apresentando melhorias, e com isso consigamos importantes avanços tecnológicos e científicos, os problemas éticos e sociais parecem não apresentar os mesmos progressos e sinalizam que há um distanciamento entre a visão de mundo atual e a construção de um mundo melhor e mais justo. Vemos isso diariamente nos jornais e revistas quando pessoas com ótima formação escolar saem algemadas de suas casas e vão parar no banco dos réus.
Um dos motivos disso estar acontecendo pode ser
porque as virtudes originariamente presentes na transmissão do saber foram
adquirindo finalidade prática ou então foram substituídas por outras com este
fim, de modo que honra, coragem e prudência, por exemplo, cederam lugar, à
excelência em atendimento, ao despertar necessidades e à empatia com o cliente,
pois o outro é agora um cliente ou consumidor; um instrumento para se
adquirir recursos, uma vez que o relacionamento passa a ser intermediado pelo
elemento econômico ou pelo recurso financeiro.
Nos dias atuais, parece que o sucesso acadêmico
está sendo medido mais pelo sucesso financeiro do que pela melhoria de caráter
do cidadão. Porém, acima do julgamento acerca do aspecto positivo ou negativo
de tais mudanças, cabe o despertar da consciência acerca do modo como isto
poderá nos auxiliar permitindo antever, tanto quanto possível, a educação do
futuro. Só conhecendo o passado, vivendo o presente e buscando antever o futuro
é que poderemos tê-lo mais próximo de nossas mãos e não sermos por ele
surpreendidos.
Queremos com isso mostrar que a educação é o
princípio por meio do qual a comunidade humana conserva e transmite a sua
peculiaridade pela vontade consciente e a razão. Uma educação consciente eleva
a capacidade a um nível superior e cria melhores formas de existência humana.
Na educação a força vital criadora atinge um alto grau de intensidade através
do conhecimento e da vontade, dirigida para a consecução de um fim. A educação
pertence por essência à comunidade, faz parte do caráter comunitário do homem
enquanto zwon politikon (zoon politikon – animal político) e é fonte de
toda ação e de todo comportamento. O influxo da comunidade tem força maior no
educar entendido como resultado da consciência viva de uma comunidade humana. A
educação participa no crescimento da sociedade, pois a história da educação
está condicionada pela transformação dos valores para cada sociedade.
Educação e cultura
Contudo, a educação fica impossibilitada de ocorrer
quando a tradição é destruída, e é bom lembrar que a estabilidade também pode
ser indício de momentos finais de uma cultura. Qualquer povo altamente
organizado tem um sistema educativo, mas nenhum igual ao ideal grego de
formação humana. Falar de uma multiplicidade de culturas pré-helênicas é uma
falsificação histórica, pois o mundo que se inicia com os gregos é, pela
primeira vez de modo consciente, um ideal de cultura como princípio formativo.
O que hoje denominamos cultura não passa de um
produto deteriorado. A Paidéia não é para os gregos um “aspecto exterior da
vida” e por isto convém nos assegurarmos do seu autêntico sentido. É preciso
voltar os olhos para as fontes de onde brota o impulso criador do nosso povo.
Colocar conhecimentos como força formativa a serviço da educação e formar
verdadeiros homens é uma ideia que só podia amadurecer no espírito daquele
povo. Os gregos viram pela primeira vez que a educação tem de ser também um
processo de construção consciente.
Para todos os povos o conteúdo da educação parece ser o mesmo:
moral e prático, ao mesmo tempo; reveste-se da forma de mandamentos e se
apresenta como comunicação de conhecimentos e aptidões profissionais à qual os
gregos deram o nome de téchne (τέχνη).
Os preceitos foram mais tarde incorporados à lei dos Estados gregos, mas as
regras das artes e ofícios resistiam à exposição escrita dos seus segredos; e o
contraste entre estes dois aspectos da educação pode ser acompanhado ao longo da
história.
Ao distinguirmos as expressões educação e formação, percebemos
que a formação se manifesta na forma integral do Homem, na sua conduta e
comportamento exterior e na sua atitude interior, produtos de uma disciplina
consciente, o qual a princípio limitava-se à nobreza; porém, a sociedade
burguesa adotou a ideia e converteu-a num bem universal para todas as gentes. A
nobreza é a fonte do processo espiritual pelo qual nasce e se desenvolve a
formação de uma nação; a formação é a forma aristocrática de uma nação, um
ideal definido de homem superior.
Paideia e mito
A palavra Paidéia só aparece no século V, com Ésquilo em Sete contra Tebas, e tinha o significado
de “criação de meninos”, adquirindo mais tarde um sentido mais elevado na
formação grega, identificado com a aretê,
equivalente a “virtude”, como expressão do mais alto ideal cavaleiresco unido a
uma conduta cortês e distinta e ao heroísmo guerreiro. É no conceito de aretê que se concentra o ideal de
educação dessa época.
Testemunho da cultura aristocrática é Homero com a Ilíada e a Odisseia,
dando forma ao ideal de Homem e se convertendo em força de formação de muito
maior amplitude. Em Homero aretê é
usada no sentido de excelência humana e como superioridade de seres não
humanos, sendo que o homem comum não tem aretê,
pois ela é um atributo próprio da nobreza; senhorio e aretê não se separam e utilizam a mesma raiz aristós, superlativo de
distinto e escolhido.
Só nos livros finais, Homero entende por aretê as qualidades morais e em geral designa por aretê a força e a destreza dos
guerreiros e, acima de tudo, o heroísmo. A própria poesia reconhece, ao lado da
aretê, outras medidas de valor,
sobretudo, a prudência (sophrosyne) e a astúcia, mas a aretê estava enraizada na linguagem tradicional da poesia heroica.
Também o adjetivo agathos, corresponde ao substantivo aretê de nobreza e bravura militar. Quase nunca tem o sentido
posterior de “bom”, como aretê não
tem o de virtude moral. No entanto, todas as palavras deste grupo têm em Homero
um sentido “ético” mais geral e designam o homem nobre que se rege por normas
certas de conduta; os mais altos preceitos de uma conduta distinta dimanam
daquela fonte.
O sentido de dever é, nos poemas homéricos, uma característica
essencial da nobreza. A força educadora da nobreza reside no fato de despertar
o sentimento do dever. A luta e a vitória significam a comprovação da aretê conquistada na rigorosa
exercitação das qualidades naturais. Vemos esta consciência pedagógica de
nobreza nos jogos fúnebres em honra a Pátroclo morto e quando Glauco, ao
enfrentar Diomedes no campo de batalha, inúmera seus antepassados ilustres: “Hipóloco me gerou, a ele devo a minha
origem. (...) advertiu-me que lutasse por alcançar a mais alta virtude humana e
fosse, entre todos, o primeiro”. O sentimento nobre formava a juventude heroica
e a Ilíada testemunha a elevada consciência educadora da nobreza, apresentando
uma nova imagem do homem perfeito, sendo Aquiles a expressão desse ideal; ele
foi educado “para proferir palavras e
realizar ações”.
Intimamente ligada à aretê
está a honra, pois os gregos preferiam morrer a viver sem honra. Segundo
Aristóteles a honra é a expressão natural da medida ainda não consciente do
ideal de aretê; o homem homérico só
adquire consciência do seu valor pelo reconhecimento da sociedade a que
pertence. Para Homero a negação da honra era a maior tragédia humana; a ânsia
de honra era insaciável e era natural que os heróis exigissem uma honra cada
vez mais alta; o elogio e a reprovação são a fonte da honra e da desonra e
foram considerados pela ética o fato fundamental da vida social, o pagamento
era secundário. Até os deuses reclamam a sua honra e se comprazem no culto que
lhes glorifica os feitos; ser piedoso quer dizer “honrar a divindade”. Tétis
suplica a Zeus: “Ajuda-me e honra meu
filho, cuja vida heroica foi tão breve. Agamêmnon arrebatou-lhe a honra.
Honra-o tu”.
Educação e filosofia
O pensamento ético de Platão e Aristóteles baseia-se na ética
aristocrática da Grécia arcaica, naturalmente diferenciado dos tempos
homéricos. Aristóteles tem muitas vezes os olhos postos em Homero e é digno de
nota que Aristóteles visse na altivez uma virtude que pressupõe todas sendo o
mais alto ornamento. Ele reserva um lugar para a altiva aretê da velha ética aristocrática. A honra é o troféu da aretê e a altivez provém da aretê, não sendo por si mesma um valor
moral. A aretê conserva sempre a
forma recebida da velha ética aristocrática e neste conceito se fundamenta o
caráter aristocrático do ideal de formação dos Gregos.
Aristóteles apresenta a aretê
como uma autoestima elevada à sua maior nobreza e descobre uma das raízes
originais do pensamento moral dos Gregos. O eu
não é o sujeito físico, mas o mais alto ideal de Homem que todo nobre aspira.
Só o mais alto amor deste eu é capaz
de “fazer sua a beleza”, mas que é para Aristóteles esta beleza? São as ações
do mais alto heroísmo moral: a defesa dos amigos, o sacrificar-se pela pátria,
abandonar dinheiro e bens para “fazer sua a beleza”; e assim o heroísmo é o que
há de mais peculiar no sentimento de vida dos Gregos; é a subordinação do
físico a uma “beleza” mais elevada.
No Banquete, Platão
mostra o sacrifício do dinheiro e dos bens para se alcançar o prêmio de uma
glória duradoura, o que explicaria o impulso do homem mortal em busca da
própria imortalidade. Percebe-se que é a ideia de aretê que liga os dois grandes filósofos ao poeta Homero.
Educar para o mercado de trabalho
Na idade moderna a divisão entre trabalho e lazer, conhecer e
fazer, homem e natureza resultou na cisão dos conteúdos da educação. Esses
dualismos culminaram na demarcação entre as mentes individuais e o mundo e entre
uma mente e outra, bem como na antítese entre os conteúdos (relacionados ao
mundo) e o método (relacionado à mente).
A educação que separa mente e mundo implica uma concepção errônea
da relação entre conhecimento e interesses sociais. A identificação da mente
como consciência psíquica privada é recente. Conhecedor era a “Razão”, quando o
indivíduo conhecia era dόxa, doxa (opinião). Entre os gregos,
a observação era severa e o pensamento livre, porém faltava um método
experimental e os indivíduos não podiam se envolver com o saber.
A Idade Média preocupando-se com a salvação da alma individual
trata o conhecimento como algo dentro do indivíduo; no século XVI, com o
individualismo econômico e político, era dever do indivíduo buscar o
conhecimento por si mesmo mediante experiências privadas e pessoais; e assim a
mente foi tomada como algo totalmente individual. Montaigne, Bacon e Locke denunciavam
a aprendizagem adquirida por meio de outrem e afirmavam que mesmo as crenças
verdadeiras não eram conhecimento sem a experimentação.
Esse isolamento se refletiu epistemologicamente criando um abismo
entre a mente que conhece e o mundo conhecido. Partindo de sujeito e objeto
criaram-se teorias que explicavam como eles se interconectavam para resultar
Os homens não estavam lutando para se libertar da conexão com a
natureza e com os outros, mas lutando por maior liberdade na natureza e na
sociedade. Queriam formar suas crenças sobre o mundo sem intermediários, em vez
de recebê-las da tradição, pois sentiam que grande parte do que era tido como
conhecimento era apenas opinião.
Note-se que na era moderna os homens não descartaram todas as
crenças, mas partiram daquilo que era transmitido e investigaram criticamente
suas bases e o resultado destas revisões foi uma revolução das concepções de
mundo. Cada nova ideia se originava em um indivíduo, mas a sociedade governada
pelo costume não encorajava o desenvolvimento de novas ideias, a tendência era
suprimi-las tratando-as como meras fantasias. A liberdade de observação não foi
facilmente assegurada, foi preciso lutar por ela; primeiro a sociedade permitiu
e depois encorajou as reações individuais que se desviavam do costume. As
teorias filosóficas consideravam a mente individual uma entidade apartada de
outras mentes, permitindo que deste individualismo intelectual fosse formulado
um individualismo moral e social.
Esse individualismo moral é estabelecido pelas separações
conscientes entre as diferentes áreas da vida, onde a consciência de cada
pessoa é um continente fechado em si, muito embora a ação se dê em um mundo
público e comum. Admitida uma consciência egoísta, como pode ocorrer a ação
voltada para os outros?
Assista ao vídeo
disponível em https://www.youtube.com/watch?v=5zHFAFQ3vAc